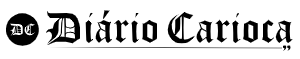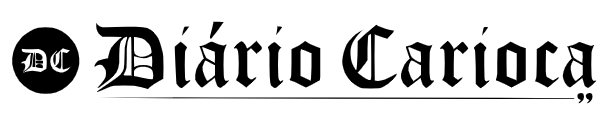O governo federal, sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu em janeiro de 2026, em Brasília, cortar R$ 6,4 bilhões de emendas parlamentares não obrigatórias aprovadas pelo Congresso no Orçamento deste ano, com o objetivo de recompor verbas de ministérios e do Novo PAC, movimento que ocorreu sem acordo prévio com as cúpulas da Câmara e do Senado e reacendeu tensões institucionais.
O corte como gesto político
Não se trata de uma manobra contábil, mas de um gesto político deliberado. Ao atingir emendas classificadas como “extras”, fora do rol das obrigatórias, o Planalto sinaliza que há limites para a captura do Orçamento por interesses fragmentados. Essas emendas, frequentemente blindadas da transparência, tornaram-se nos últimos anos um instrumento de poder silencioso: dinheiro público com baixa rastreabilidade, alto potencial eleitoral e controle difuso. Cortá-las é mexer no nervo exposto da relação entre Executivo e Legislativo.
A anatomia das emendas opacas
As emendas não impositivas operam numa zona cinzenta do Estado brasileiro. Formalmente legais, politicamente negociadas, materialmente obscuras. Servem para irrigar bases eleitorais, fortalecer caciques regionais e, em muitos casos, substituir políticas públicas estruturadas por ações episódicas. Ao suprimir R$ 6,4 bilhões desse circuito, o governo confronta não apenas parlamentares específicos, mas um método de governança que se consolidou após o enfraquecimento do presidencialismo de coalizão clássico.
O Novo PAC como prioridade de poder
A recomposição orçamentária direcionada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento não é casual. O PAC, reeditado como vitrine do terceiro mandato de Lula, cumpre dupla função: econômica e simbólica. Econômica, por sustentar investimentos em infraestrutura e induzir crescimento. Simbólica, por reafirmar a centralidade do Executivo na definição de rumos nacionais. Ao transferir recursos das emendas para o PAC, o governo troca microinteresses territoriais por um macroprojeto de Estado — escolha que redefine o tabuleiro político.
Análise & Contexto
Congresso: reação e ressentimento
O desconforto nos bastidores da Câmara e do Senado revela mais que surpresa: expõe ressentimento. A decisão não foi pactuada com lideranças, rompendo a liturgia informal que rege o Orçamento. Para muitos parlamentares, o corte representa perda de autonomia e de capital político. Para o governo, é a tentativa de recuperar governabilidade por meio da centralização racional dos recursos. O choque era previsível; a reação, inevitável.
Histórico de um conflito recorrente
Desde a Constituição de 1988, o Orçamento é palco de disputas contínuas. O fortalecimento progressivo do Congresso, especialmente após a institucionalização das emendas impositivas, deslocou poder do Executivo. O que se vê agora é uma inflexão: não uma reversão total, mas um ajuste de forças. O Planalto aceita a existência das emendas, mas recusa sua expansão sem critérios públicos. É um conflito de longa duração, reeditado sob novas circunstâncias fiscais.
O dinheiro, o déficit e a narrativa fiscal
O pano de fundo é a restrição fiscal. Com limites impostos pelo arcabouço e pela necessidade de sinalizar responsabilidade ao mercado, o governo precisava escolher onde cortar. Optou por onde o custo político é alto, mas o ganho narrativo também: combate à opacidade e reforço de políticas estruturantes. A mensagem é clara: austeridade seletiva, com viés político assumido.
Quem perde, quem ganha
Perdem os parlamentares que dependiam dessas verbas para sustentar influência local imediata. Ganham ministérios esvaziados pelo Congresso e um programa federal que concentra visibilidade. Para o cidadão comum, o impacto é indireto, mas real: menos pulverização de recursos, mais centralização em obras e projetos nacionais. Resta saber se a execução será eficiente ou apenas retoricamente superior.