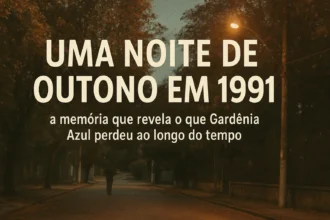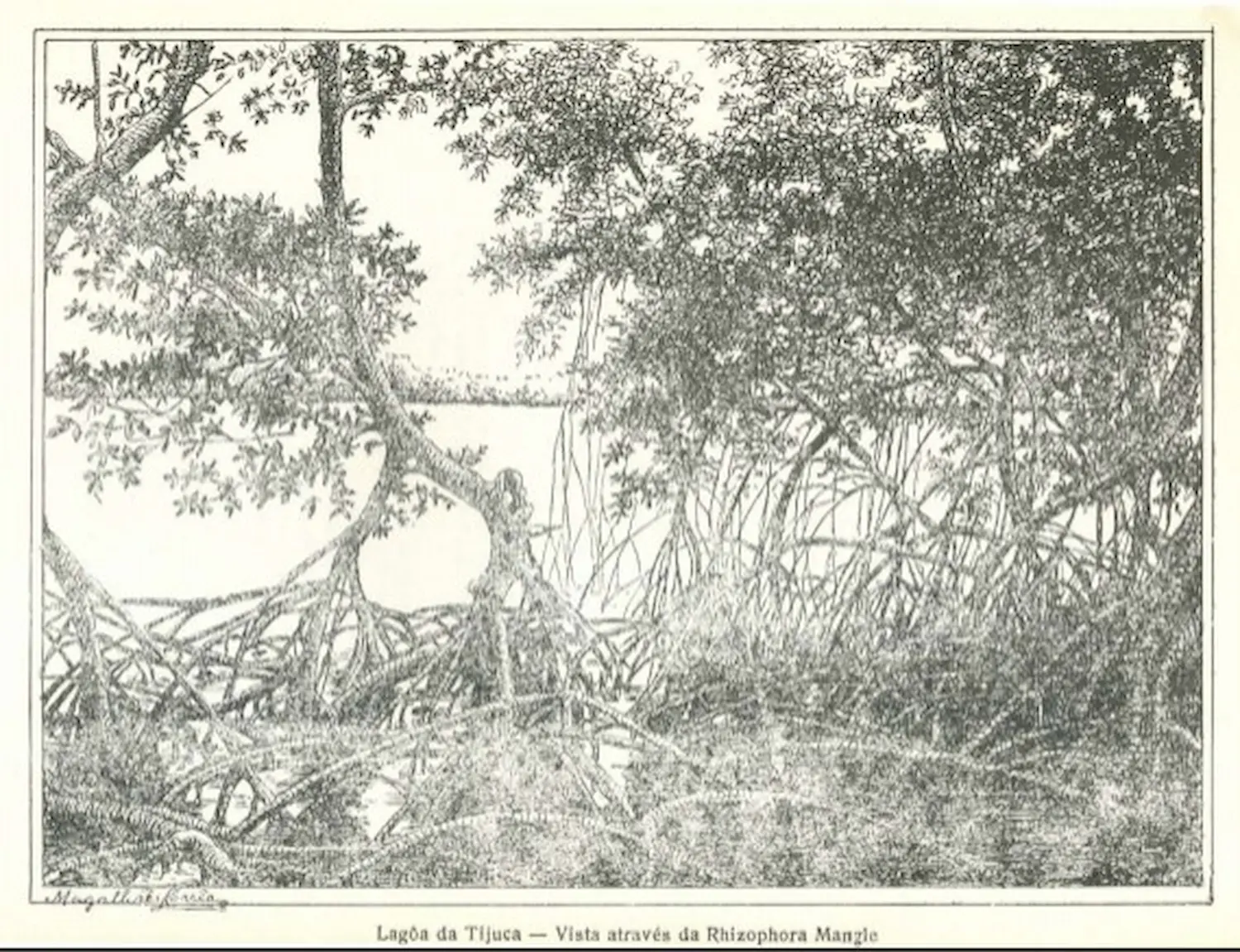A Gardênia de Azul em que vivi nos primeiros anos 2000 já era muito diferente daquela em que vivi nos anos 1980. A Gardênia da minha vida adulta era mais caótica. A verticalização tinha acabado de começar. Ela claramente se alimentou do maior poder aquisitivo proporcionado pelo Plano Real. Até meus pais aproveitaram para aumentar a nossa casa na rua F.
Saltava aos olhos o número de farmácias – havia praticamente uma em cada esquina que dava na rua “principal” (Menta). Havia explodido também o número de igrejas evangélicas, e locais a elas ligados, como os “pontos de oração”. O que não faltava ao Gardênia nesse momento – e eu estou falando de um período atravessado pelos governos FHC e Lula, eram as fontes de cura (espiritual e física). Era impossível não topar em uma delas.
Outro filão que se multiplicaria foi a do comércio de roupas de marcas, cosméticos, salões de beleza.
Mas nem tudo era só crescimento. As padarias velhas de guerra, criadas nos primeiros anos do bairro, estavam ou fechadas ou em vias de sê-la, como a “Fla-Flu”. Os armarinhos, que vendiam pipas e balas de caramelo, tinham sumido. Os botequins diminuíram drasticamente, seja porque as famílias – eram elas que tocavam esse empreendimento – decidiram fechá-las por questão de melhor aproveitamento dos terrenos (ampliação da casa) ou pela simples desistência (os filhos dos donos não se interessavam em seguir tocando o negócio). Acho até que um e outro motivo podem estar ligados a crescente demonização desses lugares (espaço de lazer por excelência das classes trabalhadoras, regada por muito álcool, onde se encontravam vários símbolos da religiosidade de matriz africana …) pelas correntes evangélicas reinantes no território.
Outro símbolo que ia desaparecendo da paisagem eram os campinhos de futebol. Havia os “oficiais”, principalmente nas áreas mais “afastadas” do “centro” do bairro e os “improvisados”, que aproveitavam terrenos baldios, áreas abandonadas ou onde havia obras embargadas. Nesses casos, estou falando de terrenos que compreendiam um lote inteiro. E nesses campos, para jogar, era só marcar, formar os times e dar a partida aos jogos (“peladas”). Era tudo muito fácil, simples. E gratuito. Com o fim dos “campinhos”, sobravam os “campos” (muitos deles de “Society”) em que você tinha que agendar e pagar (!) para usá-lo.
Havia menos espaço para as brincadeiras. Um dos motivos era o assustador aumento de aquisição de carros pelos moradores. Como nem todas as casas tinham garagem, os automóveis eram “guardados” na própria rua. Com carros enfileirados nos dois lados, tornava-se impossível realizar peladas e outros jogos ali. O custo podia ser alto, ainda mais se uma bola pegasse no vidro de um deles…
O Gardênia que havia conhecido desde meu nascimento ia perdendo rapidamente as marcas típicas de um bairro suburbano tradicional. Ele parecia menos familiar, menos acolhedor. O crescimento populacional amplificava essa sensação. Se nos anos 1980 era possível percorrer a rua principal de cabo a rabo num dia qualquer, e durante a travessia (de não mais do que 10 minutos à pé) reconhecer e cumprimentar várias pessoas, nos anos 2000 isso era praticamente impossível. Até era possível saudar uma ou outra (uma pessoa já vista antes), mas não era como antes: as pessoas com as quais estávamos convivendo num mesmo território não eram necessariamente de nosso convívio íntimo. Podiam até ser conhecidas, mas não era nossas amigas. Era uma Gardênia Azul muito mais fria e impessoal.
Não que antes fosse uma maravilha. Muito pelo contrário. Os serviços urbanos eram precários. Mas no que a oferta desses ia aumentando, as pessoas do bairro começavam a se defrontar com problemas gerados pelo crescimento. A violência e o aumento dos aluguéis eram apenas alguns deles.
De uma favela que tinha um quê de subúrbio raiz, simples e modesto, o bairro ganhava outra configuração, menos romântica, parecendo um amontoado caótico, inchado, que começava a ser dominada pela violência.
A paisagem do bairro mudava em outros sentidos. Outras marcas suburbanas foram desaparecendo da paisagem.
Lembro que na Gardênia de minha infância aquilo que décadas depois passei a apreciar nos trabalhos de história e sociologia urbana faziam parte desse subúrbio onde a vida era mais mansa, onde o urbano abraçava o rural, em que galos faziam as vezes de despertador pela manhã, em praticamente todas as quadras de todas as ruas da região (sim, porque não havia uma rua que não tivesse um ou dois galinheiros nos fundos de alguma residência); onde a turma tinha que colocar os sacos de lixo pendurados numa altura em que não fossem alcançados por varas de porcos e leitões que atravessavam o bairro em direção a algum sítio situado nas cercanias; era um bairro de ruas ricamente arborizadas; os próprios terrenos abrigavam um sem número de arvores frutíferas. Dona Eutália, uma senhora vinda da Bahia e que morava na Gardênia desde o início dos anos 1960, cultivou por boa parte de sua vida ali, um simpático pé de cacau. E ela, que tão bem cuidou de mim e de minha irmã em nossa infância, ainda plantava quiabo e feijão no fundo dos terrenos. Até criação de búfalo tinha ali perto do Gardênia. Cansei de ver quando acompanhava minha vó Lucília durante o trabalho de campo que ela fazia como “testemunha de Jeová” no Jardim Clarice e Anil. Os búfalos pastavam na altura da Pedra da Panela. Dava para vê-los quando percorríamos uma estrada que ligava a Gardênia àquelas duas localidades.
Nunca havia pensado de maneira tão consciente em todas essas vivencias que experimentei no território em que cresci. Hoje, olhando para trás a partir de uma janela bem peculiar, que é a de um historiador, vejo que elas de alguma forma me impactaram de maneira profunda. Elas me acompanham até hoje, mesmo sem o saber. Elas certamente estavam ali comigo quando decidi dedicar um bom par de anos de minha vida (acho que mais de vinte), em que produzi um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, fora dezenas de artigos e alguns livros sobre temas como luta por terra, expansão urbana, desruralização. Hoje vejo que fui empurrado por eles. Coube a mim me deixar levar.O antropólogo Michel Alcoforado disse certa feita que não é a gente que escolhe um tema de pesquisa, mas este que nos escolhe. Eu diria que o tema está sempre dentro de nós. Não existe tema que nos seja totalmente estranho ou impessoal. Quando falamos de algo, estamos falando um pouco de nós. Não tem jeito – e é assim que interpreto o que Conceição Evaristo propõe com o conceito de escrevivência -, estamos fadados a conhecer o mundo e o(s) outro(s) a partir das nossas marcas, dores, obsessões e anseios.