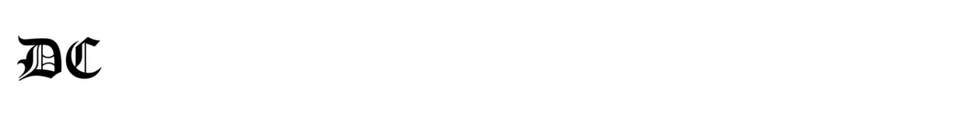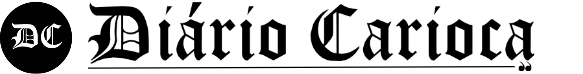RAY CUNHA, BRASÍLIA, 05-05-2021 – Além da palavra – a ferramenta de que escritores e jornalistas lançam mão na construção de seus edifícios –, ficção e jornalismo nada apresentam, aparentemente, em comum. Como água e óleo, não se misturam. Mas Os Sertões, de Euclides da Cunha; Kaput, de Curzio Malaparte; A Sangue Frio, de Truman Capote; Verdade ao Amanhecer, de Ernest Hemingway, são alguns exemplos de reportagens com valor literário. Como, pois, ambas as formas de escrita, ficção e jornalismo, podem ocupar a mesma prateleira, lado a lado, se ficção é criação, invenção, mentira, enquanto jornalismo atua como um sopro de luz sobre a verdade?
Em determinado momento, ficção e jornalismo se amalgamam e se confundem, a ponto de não mais sabermos o que é mentira e o que é verdade. Se a missão do repórter é se aproximar, o mais perto possível, da verdade, mesmo se movendo em terreno pantanoso, “a tarefa do escritor é dizer a verdade” – observou o ficcionista e jornalista americano Ernest Hemingway. A verdade, por conseguinte, é o nervo que liga ficção e jornalismo.
Móvel, fluida, enganadora, habitante de uma zona morta, a verdade simplesmente não pode ser resgatada. Entrevistando vários oficiais na Guerra da Criméia (1854), o correspondente do The Times de Londres, William Howard Russel, descobriu que “os relatos de testemunhas são, frequentemente, contraditórios”. Como, então, o escritor e o repórter poderão se aproximar de algo que se dilui e desaparece?
O artista e o jornalista perseguem o mesmo fim. Nisso, suas tarefas são semelhantes. A diferença consiste tão-somente em que enquanto o repórter, caminhando sobre areias movediças, procura chegar o mais perto possível da verdade, o escritor simplesmente inventa a verdade. Enquanto a atividade do jornalista se corporifica por meio da investigação e da coleta de provas, a do artista se incorpora pela criação. E se o jornalista e o escritor, conforme exige o trabalho de cada qual, resgatam como as coisas eram, de forma tal que o relatório do jornalista, ou a criação do artista, se mova para sempre, ambos terão alcançado a verdade.
O crítico literário americano Carlos Baker identifica três instrumentos estéticos que servem para o registro de como as coisas eram: “o sentido do local, o sentido do fato e o sentido da cena”. Hemingway disse que “se não tivermos geografia, um cenário de fundo, nada temos”. A fusão, pois, de local e fato, por meio da ação, gera a cena, móvel como a própria vida.
O escritor e jornalista italiano Curzio Malaparte, em despacho da Rússia, em 1942, escreveu para o Corriere de la Sera: “Sob meus pés, impressa no gelo como em cristal transparente, estava uma fileira de belos rostos humanos, uma fileira de máscaras de vidro, como num ícone bizantino. Estavam olhando para mim, fitando-me. Os lábios eram estreitos e gastos, o cabelo comprido, os narizes afilados, os olhos grandes e muito claros. Eram as imagens dos soldados soviéticos que haviam caído na tentativa de cruzar o lago. Seus pobres corpos, aprisionados durante todo o inverno pelo gelo, foram arrastados pelas primeiras correntes da primavera. Mas seus rostos permanecem impressos no límpido cristal verde-azulado. Observam-me serenamente e até pareciam tentar acompanhar-me com os olhos”.
Fato: Segundo Guerra Mundial. Local: lago na Rússia. Cena: mortos que fitam um viajante. Aqui, o verbo fitar fez da notícia um registro vívido do fato. Deu-lhe ação. Vida.
Ao erguer o edifício da reportagem de longe fôlego, o repórter deve considerar alguns pequenos truques, comuns no arsenal do ficcionista. Estará, assim, despertando, no leitor, interesse permanente, o mesmo interesse que somente a ficção de primeira categoria pode proporcionar.
Assim como o escritor, o jornalista classe A evita a falácia patética, que se trata de excesso de emoção. O excesso de emoção dificulta a descrição da realidade, ao passo que, ao controlar a emoção, o repórter verá o que realmente está acontecendo e descrever isso. Ora, sendo a falácia patética um erro de percepção, será, também, um erro de expressão, “já que o que foi visto erradamente não pode ser descrito veridicamente” – observa Carlos Baker.
O domínio da emoção resulta, segundo Baker, em “vermos aquilo que vemos, em vez daquilo que pensamos ver; aquilo que sentimos, em vez daquilo que somos supostos a sentir; e em dizer diretamente o que vemos realmente, em vez de apresentarmos uma versão falsa do que vemos”.
A falácia apática é outro inimigo da verdade, porque “a razão é tão fria e tensa que a emoção é inteiramente esmagada” – diz Baker. Enquanto a falácia patética deturpa a realidade, a falácia apática a imobiliza, e a intensidade, que é vida, dá lugar à tensão, que é morte.
Baker enumera ainda a falácia cinematográfica: “O mesmo que apontar um espelho e um microfone para a vida e registrar, com precisão absoluta, embora seletiva, todos os reflexos e sons”. O fato jornalístico registrado por meio de um espelho e um microfone é limitar a realidade a movimento, diferentemente do efeito produzido pelo sentido da cena, que é ação e, portanto, vida.
Ernest Hemingway desenvolveu um princípio estético a que chamou de “disciplina da percepção dupla”, que é a descrição do fato e da reação emocional sobre quem o vê. O jornalista americano Januarius Aloysius Mac-Gahan foi o pivô da guerra russo-turca (que teve início em 29 de abril de 1877) e pela independência da Bulgária. A gota d’água foi o que ele escreveu, que se constitui em um exemplo de dupla percepção. O horror descrito pelo repórter foi perpetrado pelos curdos e bashibazouks turcos para esmagar a revolta búlgara de 1876. Mais de 12 mil homens, mulheres e crianças tinham sido mortos.
“Acho que cheguei com uma disposição de espírito justa e imparcial e, certamente, deixei de lado a frieza. Há coisas demasiado horríveis para permitir algo assemelhado a uma investigação tranquila; coisas cuja vileza o olho se nega a examinar e a mente se recusa a considerar. Deparamos com um objeto que nos encheu de piedade e horror. Era o esqueleto de uma mocinha que não tinha mais de quinze anos. Ainda estava vestida numa camisa de mulher, mas os pezinhos, dos quais os sapatos tinham sido retirados, estavam nus e, devido ao fato de a carne secar, em vez de se decompor, encontravam-se quase perfeitos. O procedimento parece ter sido o seguinte: eles agarravam uma mulher, despiam-na cuidadosamente, deixando-a de camisa e pondo à parte quaisquer enfeites ou jóias que por acaso tivesse sobre si. Então, tantos quantos assim o desejassem, violentavam-na, e o último homem a matava ou não, segundo a disposição com a qual se encontrasse.
“Fomos informados de que havia três mil pessoas jazendo neste cemitério apenas. Era uma visão horrenda – uma visão para apavorar a pessoa pelo resto da vida. Havia cabecinhas cheias de cachos ali, naquela massa apodrecida, esmagadas por pedras pesadas; pequenos pés que não chegavam ao comprimento de um dedo, nos quais a carne ressecara-se; mãozinhas de bebês projetavam-se para fora, como se pedissem ajuda – criancinhas que morreram espantadas com o reluzir dos sabres e as mãos vermelhas dos homens de olhos ferozes a manejá-los; filhos mortos encolhidos de susto e terror; mães que morreram tentando proteger seus rebentos, com seus próprios corpos fracos, todos jazendo juntos ali, apodrecendo numa única massa horrenda.”
Um truque final: ao pintar-se o painel da reportagem de longo fôlego, o ato de seleção verbal é de vital importância – o que quer dizer eliminar todas as palavras falsas. “Somente através de um cuidado constante, nunca desencorajado, na formação e ritmo das frases, é que a luz da sugestividade mágica pode ser elevada a atuar por um instante evanescente sobre a superfície do lugar das palavras – das velhas, velhas palavras, já desgastadas, tornadas muito tênues por eras de uso descuidado” – disse Joseph Conrad, o autor de O Coração das Trevas.
A posição da palavra na frase, o ritmo que ela imprime, tudo isso deve ser considerado. Em Os Sertões, os mandacarus assumem vida humana, “despidos e tristes, como espectros de árvores”, e o ritmo pode ser localizado em frases como “Longos dias amargos dos vaqueiros” – um decassílabo com cesura na sexta sílaba. Versos como esses são incontáveis em Os Sertões, abrindo a porta do texto jornalístico para a poesia.
Ao resgatar o fato jornalístico na reportagem de longo fôlego, mantendo as personagens vivas, como fez Norman Mailer em A Luta, o repórter terá alcançado o ponto culminante da estética jornalística, e o escritor, o ponto culminante da estética artística: a verdade.
Este curto ensaio é o resultado do meu trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Universidade Federal do Pará (UFPa.), apresentado em agosto de 1987. A forma técnica de um trabalho acadêmico foi cortada até o osso, seguida de um trabalho de ourivesaria, até resultar neste resumo.