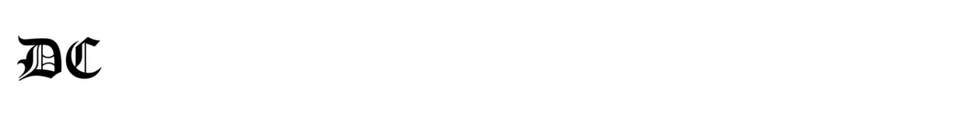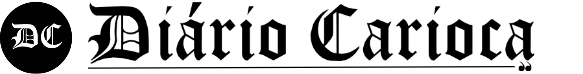Os ataques perpetuados por bolsonaristas aos edifícios dos Três Poderes em Brasília, no último dia 8, acenderam uma luz vermelha. Se por um lado foi possível comparar o ataque à invasão de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio, em 2021, nos Estados Unidos, uma diferença fundamental no caso brasileiro alertou especialistas: as digitais das Forças Armadas.
Há paralelismos na região latino-americana que fundamentam os alertas. A militarização nos territórios das comunidades mapuches no Chile; o estado de emergência que abriu portas para a repressão militar nos protestos no Peru; o golpe na Bolívia em 2019.
“Estamos vendo como os governos [da região] de esquerda, centro-esquerda e de caráter progressista têm que conviver com os militares das classes dominantes passadas”, observa o sociólogo mexicano Raúl Romero, coautor do livro Resistencias locales, utopías globales.
“Se observamos a história do golpe de Estado no Chile [em 1973] e o de 2019 na Bolívia, vemos paralelismos. Presidentes que confiam em seus ministros de segurança, em seus militares, e são esses mesmos militares que implementam os golpes de Estado. Vemos, então, a necessidade de pensar como se dá a relação do mando civil com os mandos militares nos nossos países”, diz ao Brasil de Fato.
Assim como em outros momentos históricos, as Forças Armadas jogam um papel determinante em períodos de desestabilização política e da democracia nos países da América Latina e do Caribe.
Um dos diagnósticos oferecidos pelos pesquisadores de questões de defesa e geopolítica é o afastamento das Forças Armadas de sua função original – a defesa do território nacional diante de um ataque militar e das fronteiras – para dar lugar a tarefas de segurança interior, incidindo na vida civil.
É o caso recente da inserção de mais de 6 mil militares da Guardia Nacional em estações de metrô na Cidade do México para identificar supostas sabotagens no funcionamento das máquinas. A decisão da prefeita Claudia Sheinbaum, e defendida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, tem sido amplamente discutida na sociedade mexicana e denunciada por órgãos de direitos humanos.
Para a historiadora argentina Elsa Bruzzone, especialista em geopolítica, estratégia e defesa nacional, quando as Forças Armadas assumem um papel tutelar sobre a sociedade civil, há margem para graves desvios de conduta ao se tratarem de forças treinadas para situações de guerra. “Isso se agrava quando gozam de impunidade e não são julgados por seus delitos”, afirma a especialista.
“Se não há julgamento e castigo aos que violam os direitos humanos, a história se repete e se repetirá. Na Argentina, os processos e condenações por crimes de lesa humanidade, que continuam ainda hoje, evitaram que as Forças Armadas se lancem a novas aventuras golpistas. O problema é que os poderes político, econômico e judicial cúmplices não foram julgados, salvo alguns de seus integrantes”, destaca.
Para Bruzzone, entram também na análise sobre os paralelismos o golpe civil-militar em Honduras que, em 2009, destituiu o presidente Manuel Zelaya, a atuação das Forças Armadas colombianas na luta contra o narcotráfico e as mexicanas contra o terrorismo. “Quando se rompe a linha vermelha que separa a segurança externa da segurança interna, os resultados estão à vista.”
Novas ameaças
Há explicações históricas e geopolíticas para esse deslocamento das Forças Armadas ao interior dos territórios em operações contra o delito. Durante a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, o país norte-americano foi exitoso em instalar a ideia do comunista como inimigo mundial a ser extinto. Funcionava, então, a doutrina da segurança nacional, em que os exércitos se moviam em seus territórios em busca desse inimigo comum.
Desde o fim da União Soviética, o desgaste narrativo da guerra contra o comunismo deu lugar à doutrina das “novas ameaças”, elaboradas e difundidas por agências estadunidenses, entre elas o Comando Sul das Forças Armadas, como aponta o estudo “La guerra interna” (CELS, 2018). Sob esta doutrina, vigente ainda hoje, os EUA atuam sob uma lógica tutelar na região supostamente contra os novos inimigos comuns que todos devem identificar e combater: o narcotráfico e o terrorismo. Daí se escala a uma nova categoria, a do narcoterrorismo.
Por isso, o uso do termo “terrorismo” deve ser empregado com cautela, como explica o diretor do setor de Segurança e Justiça do CELS, o doutor em ciências sociais Manuel Trufó. “É uma categoria que, quando se instala, e se reflete em determinadas práticas etiquetadas desta forma e, de alguma maneira, isso rapidamente pode voltar-se contra o campo popular.”
“Há muitos interesses em manter esse alerta vigente”, diz Trufó. “São interesses políticos, para manter a primazia dos EUA na geopolítica regional, e a agenda do terrorismo, do crime organizado e da segurança transnacional têm sustentado essa hegemonia dos EUA em termos de ser o maior exército do mundo e a principal presença militar na região.”
Não por acaso, o interesse é situado em países e zonas de valiosos recursos naturais, e a militarização é parte fundamental da estratégia de dominação e presença nos territórios.
“Em cada embaixada estadunidense em nossos países, há representantes da CIA, da DEA, do FBI, e, claro, do Comando Sul”, destaca a historiadora Elsa Bruzzone. “Também estão as bases militares, geralmente disfarçadas de ‘ajuda humanitária’. O problema é que o poder civil se mostra conforme; e quando isso não acontece, preparemo-nos para o pior.”
Além das ditaduras implementadas em diversos países da América Latina e do Caribe no século passado, ainda hoje a influência ianque é direta: bilhões de dólares são enviados à região para a capacitação, treinamento e equipagem das forças armadas e de segurança em países minimamente aliados aos EUA através de programas de financiamento.
Segundo um levantamento do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), na Argentina, mais de 255 mil agentes civis e militares foram capacitados através de financiamento estadunidense entre os anos 2000 e 2017. Os principais países destinatários dos recursos foram o México, a Colômbia e o Peru, respectivamente.
Por meio de organismos internacionais, a soberania da democracia sobre as forças armadas são colocadas em risco, como explica Bruzzone. “Ao pertencer à OEA (Organização dos Estados Americanos) e ao SIAD (Sistema Interamericano de Defesa), as forças armadas nacionais são formatadas pelos institutos militares do Comando Sul [dos EUA]. O mesmo acontece com os juízes e procuradores, que são doutrinados na escola criada para isso, que funciona em Lima, no Peru, e com suas forças de segurança, na escola que funciona em El Salvador.”
Para ser independentes e soberanos, alerta Bruzzone, é necessário abandonar esse sistema. Os únicos na região que o fizeram – e onde é promovida uma união cívico-militar, são Cuba, Venezuela e Nicarágua.
Golpe de Estado em novos moldes
Considerando a falta de apoio internacional ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma tese questionava a real intenção de promover um golpe, sustentando que o objetivo das movimentações bolsonaristas era atuar como um poder moderador e marcar território. No entanto, duas semanas após o atentado, é crescente e cada vez mais aceita a versão de uma verdadeira intentona golpista que não cumpriu seu objetivo.
Para o analista internacional venezuelano Sergio Rodríguez Gelfenstein, hoje já não é necessário o financiamento dos EUA ou o aval de Washington para um golpe de Estado. Segundo o pesquisador, em um mundo multipolar, os movimentos políticos, sejam civis ou militares, já não respondem a uma lógica puramente ideológica, mas a interesses nacionais econômicos.
“É um erro fazer uma leitura do mundo atual com categorias da Guerra Fria, do mundo bipolar. É preciso analisar os golpes de Estado por outra perspectiva”, afirma o pesquisador de relações internacionais em diálogo com o Brasil de Fato.
“O que aconteceu com os golpes de Estado? Muitos militares foram presos, mas não aconteceu nada com os civis que foram promotores, organizadores e financiadores. Por isso os golpes se chamam cívico-militares”, pontua. “De alguma maneira, isso promoveu uma reflexão dos militares na América Latina. Há uma série de novas variáveis para definir e caracterizar um golpe de Estado hoje, e o que deve mudar nas análises são as forças que participam dele.”
Gelfenstein destaca a heterogeneidade das Forças Armadas, apesar da lógica de subordinação com a que operam.
“Em geral, os processos políticos avançam ou retrocedem na América Latina de acordo com o que as Forças Armadas decidem ou não fazer. Quantas pessoas estão dispostas a matar no Peru para sustentar o governo atual? Todos prestam atenção ao que as Forças Armadas irão fazer.”
Neste sentido, o pesquisador também aponta para um fator aparentemente novo na coordenação entre os militares e a Polícia Federal, no caso dos ataques em Brasília. “Em geral, o princípio [de ação] das Forças Armadas não parte do debate, da democracia, mas do cumprimento de ordens. Quando vemos a coordenação de distintas forças que não partem de uma ideia única, percebemos um fenômeno novo, que é necessário ser estudado, já que não existem forças homogêneas.”
Gelfenstein conta que esteve recentemente na Colômbia e ficou surpreso com o que encontrou. “Conheci militares da reserva que apoiam o governo de [esquerda de Gustavo] Petro. É compreensível que já estejam cansados de 60 anos de guerra e que queiram dedicar-se ao que as Forças Armadas devem se dedicar, que é a defesa e a soberania.”