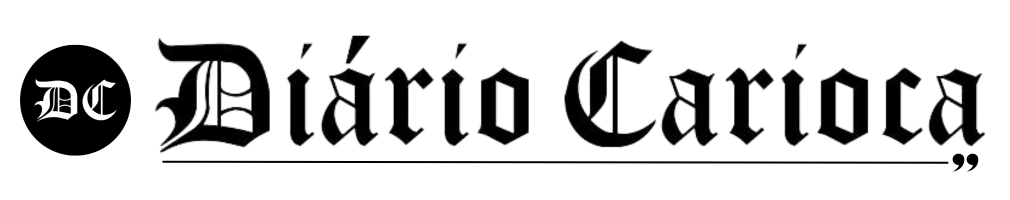Por Cauana Mestre, no Blog da Boitempo
Uma criança vai ao teatro pela primeira vez. Pede uma pipoca colorida, suco de uva, senta-se confortavelmente na primeira fila e olha para a mãe, entusiasmada pelo movimento, sem conter a energia. Mas de repente as luzes se apagam, as cortinas se abrem e chega ao palco um pirata de voz grave e passos pesados. A plateia fica em silêncio e a potência do teatro atinge a menina, que começa a chorar copiosamente até que a mãe a leve embora. Assisti a essa cena tempos atrás e assim que terminei de ver Bebê Rena me lembrei dela. O impacto da surpresa que se desdobra para o espectador em uma experiência de angústia é o fundamento da série, que nos pede o tempo todo um pouco mais de coragem – até destruir camadas e camadas de expectativas. Ao longo dos primeiros episódios eu esperei que o hilário se consolidasse e que o sofrimento do protagonista fosse exorcizado pela via do humor, mas não é isso que acontece e, como a menina da minha anedota, eu só queria que a força da peça terminasse.
Richard Gadd (na série como Donny Dunn) produz e encena a própria história – do encontro com uma stalker que persegue sua vida a outras situações de abuso. Seu projeto começou em Edimburgo, com um monólogo que depois conquistou plateias ao longo da Europa. Na peça, Martha – a stalker – era representada por um banco vazio no meio do palco. O que dava corpo à violência eram as mensagens que ela lhe enviou no período da perseguição, reproduzidas por multimídias ao longo da peça. Na adaptação para Netflix, Martha é interpretada por Jessica Gunning, que consegue provocar uma mistura tão grande de afetos que é impossível reduzi-la a qualquer determinação.
O diálogo da produção com o teatro precisa ser considerado. Não apenas porque Richard Gadd é um homem do palco e a série se serve disso o tempo todo, mas principalmente porque a direção vai assumindo cada vez mais um tom teatral, pedindo de nós um exercício parecido àquele que o teatro convoca, um esforço corporal às vezes difícil de sustentar. Na história do teatro grego, tragédia e comédia se separam de acordo com suas intenções diante da plateia; enquanto a primeira apresenta, ato por ato, o palco das paixões divinas que terminam em desfortúnios, a segunda se propõe a provocar o riso, trazendo à luz os traços mais ordinários dos homens comuns. No inconsciente, no entanto, tragédia e comédia se entrelaçam e uma não existe sem a outra. Bebê Rena aposta nessa verdade e constrói uma narrativa não apenas reflexiva, mas profundamente conectada com a subjetividade humana.
Martha é uma mulher de meia idade que coleciona passagens pela polícia por perseguir pessoas virtual e fisicamente. Ela conhece Dunny no pub onde ele trabalha; um dia aparece chorando e ele lhe oferece uma bebida, capturando assim a atenção da stalker, que passa a visitá-lo todos os dias e a mandar e-mails incessantemente até que esse contato se torne bastante ameaçador. A partir da história com Martha, Donny Dunn mergulha nas coordenadas de um gozo destrutivo, mortífero, que repetidamente o faz habitar posições objetificadas muito perigosas e ele vai longe para investigá-las. Por que afinal resistia em denunciar aquela mulher? O que havia de seu ali, naquele movimento em direção ao abismo?
Nós nos tornamos efeitos da cultura no instante em que alguém nos insere no mundo discursivo. O percurso de Donny contorna a margem sempre desbotada entre as próprias decisões e os impasses contemporâneos do laço social: o imperativo do sucesso a qualquer custo, a falta de lugar para o luto e a tristeza, a solidão impactante das grandes cidades e da vida capitalista. Sobre tudo isso fica exposta também uma das camadas do machismo que, como estrutura, enrola a todos nós pelos fios da impotência. Quais são as coordenadas da masculinidade que ainda perpetuamos e a partir das quais submetemos meninos e homens ao silêncio?
Donny começa a examinar experiências anteriores, em um movimento equivalente à associação livre de uma análise, quando nos esforçamos para formular nossas próprias perguntas; sua exploração nos conduz a questões sempre vivas sobre a subjetividade. Como é possível que uma situação tão aterrorizante seja ao mesmo tempo sedutora? Por que repetimos destinos sofridos e às vezes insuportáveis?
A psicanálise está às voltas com essa pergunta desde seu nascimento. Freud encontrou pistas nos sonhos dos soldados que voltavam da guerra e que, repetidamente, sonhavam com as atrocidades que haviam testemunhado. Se o sonho realizava um desejo, como ele havia proposto em 1900, como era possível repetir o pesadelo e a angústia de forma tão determinada? Sua resposta é complexa, mas muito lógica: somos habitados pela compulsão à repetição, uma força anterior à possibilidade de desejar, e que nos faz voltar a marcas muito traumáticas mesmo – ou até principalmente – quando temos a possibilidade de avançar para encontrar algo novo. Freud descobre aí um circuito pulsional complicado, que não pode ser esgotado por métodos terapêuticos comuns e nem mesmo pela superação do conteúdo recalcado, seria preciso inventar algo mais. Lacan vai além das proposições freudianas para formular o conceito de gozo, que perpassa toda sua obra e tem muitas apreensões, mas que talvez possamos aqui resumir em uma lógica muito simples: é possível que uma coisa absolutamente desprazerosa no nível da consciência seja vivida com intensa satisfação no inconsciente, o que instala em nosso mundo particular um paradoxo indelével. Essa é a trama desarranjada que fundamenta nossa relação nunca totalmente resolvida com o corpo e com o sexo.
A narrativa de Donny escancara o que há de estranho, de estrangeiro, na relação com o próprio corpo e com os próprios atos. Ela nos lembra da nossa realidade fragmentada, cheia de furos por onde a violência pode passar à revelia das nossas escolhas. De uma marca traumática a outra, o protagonista da nossa tragicomédia contemporânea vai nos ensinando que fascínio e horror são duas faces da mesma moeda, que muitas vezes somos capturados por objetos que não sabemos conjugar com nossos desejos e que para perpetuar nossa relação fantasmática com eles podemos ir muito longe, até que o último grão seja destruído.
Mas, diante dessa amálgama de terror e violência, alguma coisa acontece quando pai e filho podem finalmente dar corpo linguístico ao trauma que compartilham – cada um com sua história. Então Donny pode atravessar o rio onde se afogava para chegar a outra margem, na terra firme e fértil da invenção e do testemunho. Aprender a fazer alguma coisa com as marcas de dor que nos constituem é um dos grandes exercícios da vida. A cena final me diz que Richard Gadd soube como fazer isso ao trocar de lugar: daquele que está sempre a serviço do outro para alguém que pode, finalmente, receber – o drink e o amor. A fala, precursora da criação, é ainda uma das forças mais curativas à qual temos acesso. É pela via da palavra e da invenção que nos salvamos; como a criança de uma passagem narrada por Freud: com medo do escuro ela pede à tia que converse com ela, pois quando alguém fala, fica mais claro.
Publicado em Outras Palavras