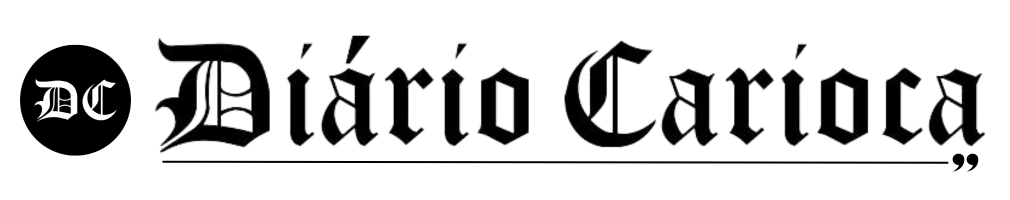Marta Regina Fernandez y Garcia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
A guerra russo-ucraniana, que completa três anos em 24 de fevereiro, assumiu desde o seu início proporções globais, com o envolvimento direto dos Estados Unidos e da Europa em apoio à Ucrânia. Esse conflito tem revivido as memórias da Guerra Fria, um período marcado pela polarização entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, encabeçado pela União Soviética. Desde a invasão da Ucrânia, a Rússia vem enfrentando o que denominou “Ocidente coletivo”, mobilizado por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança criada em 1949 justamente para fazer frente à expansão soviética e limitar sua influência na Europa.
O impasse no campo de batalha, que persiste até o momento, deve-se em grande parte ao maciço apoio militar e financeiro do Ocidente, que tem sustentado a resistência ucraniana e dificultado a busca por um cessar-fogo entre as partes.
Esse impasse, no entanto, revela uma crise ainda mais profunda: a luta entre o velho e o novo, como bem descreveu o intelectual marxista italiano Antonio Gramsci — “o velho mundo não consegue morrer, e o novo ainda não pode nascer”. Yalta, que sediou a conferência responsável por moldar a ordem global do pós-Segunda Guerra e que, desde a invasão da Crimeia em 2014, está sob controle russo, simboliza essa ironia histórica. O local que um dia definiu os rumos do mundo no pós-1945 é agora palco de um conflito que pode reconfigurar a geopolítica global, marcando o fim de uma era e a difícil gestação de uma outra.
Durante o governo Biden, o “Ocidente coletivo” projetou um mundo que, nos moldes da Guerra Fria, compartimentalizava os países entre democracias e regimes autoritários, fortalecendo a aliança transatlântica e reafirmando o papel dos EUA como líder do bloco democrático. No entanto, com a mudança de governo nos Estados Unidos, parece prevalecer um novo imaginário político.
O governo Trump desdenha da ideia de uma ordem baseada em princípios, seja de soberania ou democracia, e aposta em uma divisão mais pragmática e menos ideológica: aquela entre fortes e fracos. Já sugeriu adquirir a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, e reassumir o controle do Canal do Panamá, gestos que enfraquecem a legitimidade das críticas ocidentais às violações da soberania cometidas pela Rússia. Para Trump, o que importa é a capacidade de exercer poder e influência, e não a adesão a valores ou princípios universais.
EUA, do messianiasmo ao cinismo
Essa mudança reflete uma transição na política externa dos EUA, que, ao abandonar o idealismo democrático e o messianismo universalista — muitas vezes justificativa para intervenções questionáveis e expressão de uma arrogância que busca moldar o mundo à sua imagem —, adota uma visão mais cínica e realista, onde a força prevalece sobre a ideologia.
No entanto, essa guinada expõe os limites de ambas as abordagens: se o universalismo democrático é movido por uma moralidade narcísica que, muitas vezes, mascara interesses geopolíticos, o realismo pragmático de Trump avança a lei do mais forte, fazendo bullying com os mais fracos e desprezando normas e instituições internacionais.
No vocabulário político de Trump, o direito internacional e o multilateralismo são palavras riscadas do dicionário, substituídas por um idioma rude onde só falam os mais fortes. O que move o recém-empossado presidente não é a incompatibilidade ideológica com a Rússia ou a China, mas o temor de ver os Estados Unidos marginalizados na nova configuração de poder que se anuncia.
A nova estratégia parece ser a de estabelecer uma ordem global triangular, envolvendo Estados Unidos, Rússia e China. Recentemente, Trump sugeriu reunir-se com Xi Jinping e Putin, quando a situação se acalmar, para redefinir os contornos geopolíticos internacionais.
O primeiro passo desta estratégia está sendo dado na Arábia Saudita, onde diplomatas estadunidenses e russos se encontram para discutir um possível acordo de paz para a guerra na Ucrânia, sem a participação da própria Ucrânia ou de aliados europeus.
Essa mudança é, em si mesma, um reconhecimento de que o mundo não pode mais ser unipolar e da incapacidade econômica e política dos EUA de manterem sozinhos o papel de garantidor da ordem internacional, diante da ascensão de novas potências que desafiam sua hegemonia.
Europa à deriva e Ucrânia abandonada
Nesse novo jogo geopolítico, os EUA têm sinalizado o desejo de se aproximar da Rússia e da China para redesenhar a ordem internacional liberal, deixando aliados tradicionais, como a Europa, em segundo plano. Nesse novo cenário, a capacidade da Ucrânia de ser ouvida praticamente desaparece. Assim como Cuba durante a Crise dos Mísseis no auge da Guerra Fria em 1962, a Ucrânia corre o risco de ser reduzida a um mero cenário de disputa, sem voz ou autonomia para incidir sobre a nova ordem.
Com a Europa lançada à deriva e pressionada pelos Estados Unidos a assumir gastos crescentes com sua defesa, sem poder contar com o apoio incondicional de Washington, a Ucrânia se vê ainda mais vulnerável. Sem chances reais de ingressar na OTAN e pressionada por interesses externos, pode ser forçada a ceder parte de seu território à Rússia, enquanto seus recursos minerais críticos — essenciais para a indústria de defesa e tecnologia dos EUA — são disputados como moeda de troca pelo governo Trump.
Diante desse novo cenário, a Cúpula do BRICS, que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 06 e 07 de julho deste ano, assume uma importância estratégica ímpar. Afinal, foi justamente esse agrupamento, cujos membros fundadores são Rússia, China, Brasil e Índia, e que passou a incluir a África do Sul em 2011, além de cinco novos membros plenos nos últimos dois anos (Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Irã e Indonésia), que impulsionou e deu visibilidade à agenda de reestruturação da ordem internacional liberal.
O BRICS tem destacado o descompasso dessa ordem, que se reflete na arquitetura financeira e política internacional criada em 1945, quando a correlação de forças era bem diferente da atual. Hoje, novos atores ganham relevância econômica, política e tecnológica, mas ainda enfrentam barreiras institucionais que limitam sua influência nos processos decisórios globais. Essa assimetria é especialmente evidente na governança das principais instituições multilaterais.
O Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, mantém uma estrutura arcaica, onde apenas cinco países têm assentos permanentes e poder de veto, excluindo atores emergentes que desempenham papéis cruciais na geopolítica contemporânea.
Da mesma forma, as instituições de Bretton Woods — como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial — continuam dominadas pelos Estados Unidos e seus aliados, com regras que garantem o controle decisório ao Ocidente e impõem condicionalidades que limitam a autonomia econômica dos países em desenvolvimento.
Os Estados Unidos, por meio do dólar, controlam o sistema financeiro global, utilizando essa hegemonia monetária como uma ferramenta de poder, chantagem e coerção.
O BRICS tem desafiado essa lógica, propondo alternativas como o fortalecimento do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e a implementação de mecanismos para transações em moedas locais, buscando reduzir a dependência do dólar e promover uma governança mais equitativa no sistema internacional.
A estratégia de Trump de buscar aproximação com a Rússia e, de modo mais tímido e contraditório, com a China, parece visar o controle dos termos e do processo de reforma da ordem internacional liberal, uma ordem que Marco Rubio, seu secretário de Estado, classificou como “obsoleta”.
Para os EUA, a reforma deve ocorrer, mas de maneira que mantenha sua influência e hegemonia, neutralizando o potencial transformador da agenda de reforma do BRICS. Trump deixou claro que não permitirá que o grupo reestruture a ordem global sem o envolvimento dos EUA. Ameaças, como a de impor tarifas de 100% caso o BRICS insista em criar uma moeda alternativa ao dólar, refletem o receio de que a proposta de multipolaridade do grupo possa desafiar diretamente a hegemonia econômica e política dos Estados Unidos.
A importância do BRICS na construção de nova ordem mundial
O grande desafio da Cúpula do BRICS no Brasil será reafirmar a centralidade do bloco como protagonista de uma nova ordem global, sem permitir que a velha lógica colonial de “dividir para dominar” se infiltre nas relações do grupo.
Durante o governo Biden, os países do BRICS enfrentaram crescente desconfiança por se recusarem a se alinhar incondicionalmente ao Ocidente e às suas sanções unilaterais na guerra russo-ucraniana. Frequentemente retratados sob uma ótica orientalista, foram demonizados como autocracias irracionais, em contraste com o suposto “eixo civilizatório” euroamericano.
Essa narrativa tentou importar a divisão entre democracias e regimes autoritários para dentro do BRICS, evidenciada pelo fluxo de financiamentos de pesquisa por parte de instituições europeias e estadunidenses com o objetivo de atrair as potências democráticas emergentes do Sul Global.
No entanto, ao tentar enxergar o BRICS por meio desta ótica divisória, ignora-se um aspecto crucial da história do grupo: sua agenda sempre foi a de democratizar a governança global, promovendo uma ordem mais inclusiva e representativa, justamente o que os Estados Unidos, defensores mais fervorosos da democracia liberal no interior dos Estados têm historicamente barrado.
Agora, no governo Trump, a estratégia parece mudar: a tentativa é atrair as grandes potências — Rússia e China — enquanto minimiza a importância dos membros menos poderosos do grupo. Em relação ao Brasil, por exemplo, Trump afirmou que o país precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário.
Desafios rumo à desdolarização e à multipolaridade
O BRICS, contudo, nunca esteve tão em evidência, e sua capacidade de resistir às pressões externas dependerá de sua habilidade em manter a coesão e avançar uma agenda positiva. Essa agenda deve reconhecer as diferenças entre seus membros não como obstáculos, mas como valores fundamentais para a construção de uma nova ordem multipolar e diversa.
Uma ordem em que os países possam exercer autonomia para definir suas formas de organização política, modelos de desenvolvimento e modernização, culturas, línguas, moedas e até mesmo temporalidades — como no caso singular da Etiópia, que vive no ano de 2016 em seu próprio calendário. A diversidade de histórias, longe de ser um problema — como frequentemente vista no Ocidente —, vem sendo ressignificada pelo BRICS como símbolo de vitalidade e riqueza.
É nesse contexto que se insere a demanda do BRICS por uma maior autonomia nas transações comerciais, com a possibilidade de negociar em suas próprias moedas, buscando reduzir a hegemonia do dólar. O objetivo do que vem sendo chamado “desdolarização” não é substituir a moeda americana, mas diversificar as relações comerciais e os instrumentos utilizados nessas transações.
Essa proposta reflete uma aspiração maior: permitir que o “resto do mundo” tenha voz e possa expressar suas necessidades e interesses em seus próprios termos, desafiando uma história única dominada pelo Ocidente.
O desafio consiste em equilibrar o reconhecimento das potencialidades do BRICS com uma análise crítica de seus limites e contradições. É necessário evitar uma visão idealizada que ignore as dinâmicas de poder e a divisão internacional do trabalho dentro do grupo. Como no caso das relações comerciais entre Brasil e China, que se caracteriza principalmente pela exportação de commodities brasileiras, como soja e minério de ferro, e pela importação de produtos chineses de alto valor agregado —, além das desigualdades de gênero e das limitações democráticas que atravessam os países do agrupamento.
Ao mesmo tempo, é essencial evitar as demonizações que desconsideram o potencial transformador e emancipatório do BRICS, capaz de desempenhar um papel crucial na construção de uma ordem global mais justa e equitativa.
Marta Regina Fernandez y Garcia, Diretora do BRICS Policy Center e Professora Associada, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.