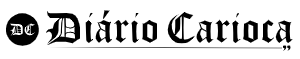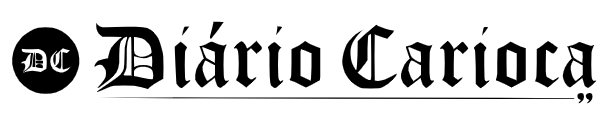O colapso raramente chega sem aviso. No sistema financeiro, ele costuma bater à porta com planilhas, memorandos e alertas técnicos. No caso do Banco Master, o aviso soou alto e repetidas vezes.
Ainda assim, sob a presidência de Roberto Campos Neto no Banco Central, a opção foi esperar. Esperar que o mercado resolvesse o que a regulação hesitou em enfrentar.
Perspectivas Editoriais
Esperar que a engenharia financeira compensasse a fragilidade estrutural. Esperar, sobretudo, que o custo não recaísse sobre o Fundo Garantidor de Créditos — e, por extensão, sobre a coletividade.
A reportagem que agora ilumina os bastidores desse episódio revela que Campos Neto tinha conhecimento dos problemas de liquidez do Master e, mesmo assim, atuou para evitar medidas mais duras em momentos críticos de 2024.
O argumento oficial: decisões técnicas, colegiadas, ausência de proposta formal de intervenção. O argumento real: a aposta numa “solução de mercado” que preservasse aparências, adiasse o inevitável e minimizasse danos reputacionais no curto prazo.
Quando a técnica encontra a ideologia
A defesa da neutralidade técnica é o escudo preferido de autoridades monetárias. Mas técnica não existe no vácuo. Ela opera dentro de escolhas políticas.
Ao tolerar um banco com baixo estoque de ativos líquidos, capital insuficiente e informações inconsistentes prestadas à autarquia, o Banco Central fez uma escolha. Preferiu o risco difuso à intervenção clara. Preferiu o tempo ao corte cirúrgico.
A tentativa de separar o Master em “good bank” e “bad bank” — expediente clássico para socializar prejuízos e privatizar ativos saudáveis — era menos um plano e mais uma esperança.
Quando o plano de captação de R$ 15 bilhões fracassou, levantando apenas R$ 2 bilhões, o castelo de cartas ficou exposto. Ainda assim, a instituição manteve operações estruturadas de longo prazo, aprofundando o descasamento de liquidez. A fiscalização endureceu, mas a caneta decisiva permaneceu no bolso.
Crescimento acelerado, fiscalização tardia
Entre 2019 e 2024, o Banco Master saltou de R$ 3,7 bilhões para R$ 82 bilhões em ativos. Um crescimento vertiginoso, celebrado por agências de rating como façanha empresarial, mas sustentado por práticas que hoje são investigadas pela Polícia Federal. A autorização para a compra do então banco Máxima, em 2019, abriu a porteira. O resto foi velocidade sem freio.
O Banco Central reconheceu ao Tribunal de Contas da União que identificou irregularidades graves: insuficiência de capital, falhas no gerenciamento de risco de crédito, inexistência de ativos líquidos no fundo de liquidez.
A partir de novembro de 2024, o banco já não conseguia rolar dívidas nem cumprir integralmente os depósitos compulsórios. O diagnóstico estava feito. A terapia, adiada.
Quem ganha, quem perde
Ao postergar a liquidação até novembro de 2025 — já sob Gabriel Galípolo —, a gestão anterior empurrou o problema para o futuro. Quem ganhou tempo foram os controladores.
Quem perdeu previsibilidade foi o sistema. E quem correu risco de pagar a conta foi o FGC, mecanismo financiado pelos próprios bancos, mas cuja estabilidade interessa a toda a economia.
A narrativa de que não houve proposta formal à diretoria não absolve a liderança. Em estruturas hierárquicas, a agenda é poder. O que não se pauta, não se decide. O que não se decide, se arrasta. E o arrasto, em finanças, custa caro.
O sintoma de um modelo
O caso Master não é uma anomalia; é sintoma. Revela um modelo regulatório que confia excessivamente na autorregulação do mercado e subestima o efeito sistêmico da complacência.
Revela também a porosidade entre ideologia liberal, interesses privados e decisões públicas. Quando a crise finalmente se impôs, já não era possível fingir surpresa.
A Operação Compliance Zero, que investiga a venda de carteiras falsas ao BRB, fecha o círculo: crescimento desordenado, fiscalização tardia, intervenção atrasada.
A pergunta que resta não é apenas por que Campos Neto esperou. É por que o sistema permite que esperar seja uma opção tão confortável para quem decide.