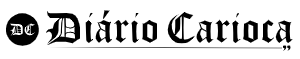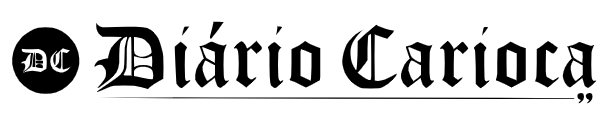A chamada Super Quarta-feira é menos um espetáculo e mais um ritual. Um rito tecnocrático em que alguns poucos homens e mulheres, reunidos em salas blindadas em Brasília e Washington, decidem o preço do dinheiro — e, por extensão, o ritmo da vida econômica de milhões. Nesta quarta, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil e o Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos anunciam suas decisões sobre juros. O consenso é cristalino: não haverá cortes agora. O debate real, como sempre, está no quando e no para quem.
No Brasil, a taxa Selic permanece em 15%, um patamar que não se sustenta apenas por modelos econométricos, mas por uma leitura política da inflação. O Banco Central insiste no remédio amargo porque desconfia do paciente — e, sobretudo, do médico fiscal. A inflação projetada para 2026 segue acima da meta, os gastos públicos continuam a assombrar o horizonte e a memória inflacionária do país funciona como um trauma coletivo mal cicatrizado.
Perspectivas Editoriais
Jeff Patzlaff, planejador financeiro, traduz esse espírito com franqueza clínica: a autoridade monetária não pode piscar. Com o IPCA projetado em 4,02% para 2026, acima da meta de 3%, a taxa elevada funciona como contenção preventiva. Não se trata apenas de controlar preços, mas de disciplinar expectativas — e, indiretamente, governos. A sinalização implícita é clara: enquanto o fiscal flertar com a imprudência, o monetário seguirá em modo punitivo.
Juros altos como instrumento de poder
O diagnóstico é compartilhado por Bruno Perri, economista-chefe da Forum Investimentos. A economia brasileira segue aquecida, o mercado de trabalho apertado e a inflação de serviços resistente. Em linguagem menos técnica: o país ainda não sentiu dor suficiente para justificar alívio. O primeiro corte, se vier, será parcimonioso e tardio, provavelmente apenas no segundo trimestre. A autonomia formal do Banco Central convive com uma dependência simbólica: convencer o mercado de que a âncora ainda está no lugar.
Marcelo Bolzan, da The Hill Capital, vê no comunicado do Copom o verdadeiro campo de batalha. Não é a taxa em si, mas o tom. Uma palavra a mais, um advérbio mal posicionado, pode antecipar expectativas e redesenhar curvas. Seu cenário aposta em cortes graduais ao longo do ano, levando a Selic a 12% no fim de 2026 e a 10,5% no ciclo seguinte. Uma trajetória que pressupõe um mínimo de racionalidade fiscal — artigo raro no debate público brasileiro.
O investidor entre o conforto e a armadilha
Com juros reais elevados, o Brasil se transforma, mais uma vez, em paraíso da renda fixa. Pós-fixados como Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, LCIs e LCAs oferecem retornos robustos sem exigir heroísmo. Para o pequeno investidor, é um raro momento de remuneração sem adrenalina. Para o país, um dilema: juros altos protegem a poupança, mas estrangulam o investimento produtivo.
No longo prazo, os títulos indexados à inflação — os IPCA+ — cumprem o papel civilizatório de preservar poder de compra. São apostas na continuidade do Estado e na sobrevivência institucional. Ainda assim, exigem atenção ao risco de crédito e aos limites do FGC, lembrando que nem toda promessa estatal é igualmente sólida.
Do outro lado do Equador, a mesma cautela
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve encena um roteiro semelhante. Após cortes pontuais no fim de 2025, a autoridade monetária entrou em modo data-dependent. A economia americana segue resiliente, o PIB foi revisado para cima e o mercado de trabalho resiste. Jerome Powell e seus pares preferem errar por excesso de cautela a reativar fantasmas inflacionários.
Bruno Perri vê a retomada dos cortes apenas a partir de abril ou junho. Até lá, o investidor global convive com juros altos também em dólar. Treasury Bills e bonds corporativos de empresas sólidas surgem como alternativas defensivas, enquanto a renda variável — especialmente tecnologia — exige seletividade quase cirúrgica.
A pedagogia da espera
A Super Quarta, no fundo, não entrega surpresas. Ela reafirma uma pedagogia dura: o mundo ainda paga a conta dos excessos do passado. Juros altos são o preço da desorganização fiscal, da inflação negligenciada e da ilusão de crescimento sem custo. Para o trabalhador, isso significa crédito caro e consumo contido. Para o investidor, oportunidades defensivas. Para os governos, um aviso: não há atalhos duradouros contra a aritmética econômica.