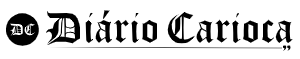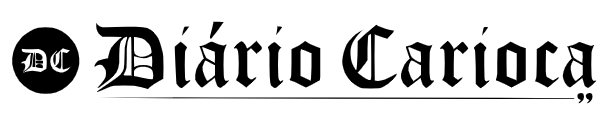O governo genocida de Israel reagiu com irritação calculada ao anúncio, feito em Washington, de um conselho executivo para Gaza concebido sem consulta prévia a Tel Aviv.
A resposta partiu do gabinete de Benjamin Netanyahu, que classificou a iniciativa como frontalmente contrária à política israelense para o território. O gesto não é detalhe protocolar; é sintoma de uma arquitetura de poder que decide antes de ouvir.
A Casa Branca divulgou a composição do colegiado com nomes de peso simbólico. Marco Rubio, secretário de Estado, e Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, figuram como operadores de uma visão desenhada no entorno de Donald Trump. A missão declarada é “operacionalizar” diretrizes de um Conselho de Paz. A palavra paz, aqui, funciona como selo de exportação.
Quem governa quando ninguém pergunta?
A ausência de consulta não é ruído, é método. Washington apresenta o desenho, Londres empresta o verniz histórico, e o terreno — Gaza — vira laboratório de governança externa. A soberania local aparece como variável dependente, jamais como princípio.
Netanyahu determinou que o chanceler Gideon Saar procure Rubio para “tratar do tema”. O verbo é econômico e revela o impasse: tratar é diferente de decidir. O plano ainda prevê um comitê administrativo para Gaza e convites a líderes internacionais, ampliando a tensão diplomática numa região já saturada de mediações que prometem estabilidade e entregam fricção.
O que muda quando o conselho nasce fora do território?
Muda o eixo da legitimidade. Um arranjo com secretários, ex-premiês e convidados globais cria uma cadeia de comando que responde a capitais distantes. Na prática, o fluxo de decisões tende a seguir esta sequência implícita: definição estratégica em Washington, chancela moral europeia, execução local condicionada.
A história recente oferece paralelos desconfortáveis. Protetorados com linguagem de reconstrução, comitês administrativos com vocação permanente, convites internacionais que diluem responsabilidades. Gaza entra nessa gramática como objeto de gestão, não como sujeito político.
Entre promessas e fraturas, surgem contrastes evidentes no próprio texto do plano. De um lado, eficiência, coordenação, “visão”. De outro, consulta inexistente, políticas conflitantes, aumento da tensão. O equilíbrio anunciado não equilibra; empilha.
Por que a palavra “paz” pesa menos que o procedimento?
Porque a paz sem processo vira slogan. Conselhos que nascem prontos ignoram o primeiro degrau da legitimidade: ouvir os diretamente envolvidos. Ao contrariar a política israelense declarada e ao mesmo tempo pretender administrar Gaza, o projeto inaugura uma disputa silenciosa sobre quem arbitra o futuro imediato do território.
No tabuleiro diplomático, os movimentos são claros mesmo quando não são nomeados. Estados Unidos: liderança executiva. Reino Unido: capital simbólico. Israel: interlocução reativa. Gaza: cenário. A tensão cresce não pelo conteúdo isolado, mas pelo desenho que recoloca a região sob tutela discursiva.
A crise, portanto, não é apenas sobre um conselho. É sobre a persistência de uma lógica em que decisões globais se impõem localmente com vocabulário terapêutico. Quando a consulta é dispensável, a soberania vira nota de rodapé. E notas de rodapé, como se sabe, raramente mudam o texto principal.